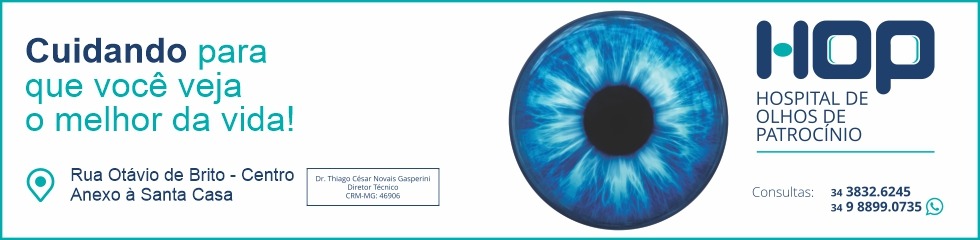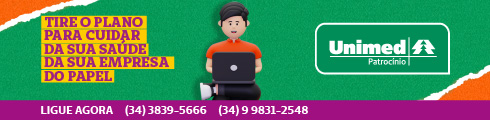Saí do trabalho com aquele cansaço que não pesa
só no corpo: pesa também na forma como a gente olha o mundo. Não é uma exaustão
dramática, dessas que viram discurso. É a fadiga discreta de quem passou o dia
tentando dar conta do que precisa ser feito, respondendo ao urgente,
organizando o que não se organiza sozinho, e ainda assim sentindo que o tempo
escorre por alguma fresta que ninguém vê.
Na rua, a tarde estava morna. O céu, desses que
parecem não decidir se vão dourar ou acinzentar. Meu filho vinha ao meu lado,
no quadriciclo, descobrindo o chão como se fosse a primeira vez. Ele tem essa
seriedade engraçada de quem está brincando, mas leva a brincadeira a sério,
como se conduzir um brinquedo fosse uma missão e não um passatempo. A cada
pequena vitória (desviar de um buraco, vencer uma subida curta, manter o
equilíbrio), ele me olhava de relance, conferindo se eu tinha visto. Eu via. Eu
sempre vejo. E, ao mesmo tempo, me espantava com a quantidade de coisas que eu
deixo de ver quando estou sozinho.
Andávamos devagar. Não havia pressa. E isso já
era, por si, um tipo de presente raro: caminhar sem meta, sem cronômetro, sem
aquela culpa moderna que transforma descanso em atraso. Meu filho não sabe
disso, claro. Ele apenas vive. E ao viver, me obriga a reaprender o básico:
estar.
Foi então que passamos em frente a um lote com um
muro baixo, onde algumas crianças brincavam com uma caixa de papelão. Não era
uma caixa bonita, dessas que saem de lojas com logo e fita de cetim. Era uma
caixa grande, amassada nas quinas, com marcas de chuva, talvez de barro. E,
ainda assim, parecia o objeto mais importante daquela rua.
A caixa era tudo. Era carro, era casa, era navio,
era esconderijo. Uma menina tinha se sentado dentro como se fosse capitã de um
mundo portátil. Um menino empurrava a caixa com solenidade, como quem conduz um
veículo de verdade. Outro, mais novo, batia na lateral como se testasse a
resistência do universo. E havia um acordo entre eles: aquilo ali tinha valor
porque eles decidiram que tinha.
A cena me pegou de jeito, não por nostalgia, eu
desconfio de nostalgia quando ela vira perfume pra disfarçar a vida, mas por
uma clareza incômoda. A caixa era pobre de matéria e rica de sentido. E eu, que
vinha do trabalho, carregava por dentro o contrário: muita matéria ao redor, e
uma certa pobreza de sentido acumulada na pressa.
Meu filho diminuiu, curioso. A roda do
quadriciclo fez um barulhinho de areia. Ele apontou, como quem reconhece uma
linguagem. Crianças entendem caixas. Elas entendem qualquer coisa que ainda não
foi condenada a ser só “coisa”. No olhar dele havia uma vontade de descer, de
ir, de participar daquele ritual simples. Eu quase disse “não”, por hábito, por
medo do imprevisível, por cansaço. Mas não disse. Apenas parei, e ficamos
olhando.
E, naquele instante, a pergunta me atravessou sem
pedir licença: quando foi que a gente começou a embrulhar tudo e, ao embrulhar,
perder o conteúdo?
Porque eu vi, naquela caixa, o que o Natal tenta
nos ensinar e a gente insiste em traduzir errado. Há presentes que vêm com
papel brilhante, etiqueta e prazo de troca. E há presentes que ninguém
embrulha, porque não cabem. Tempo não cabe em caixa. Escuta não cabe em caixa.
Paciência não cabe em caixa. Reconciliação, então, não cabe em lugar nenhum,
ela só acontece quando o orgulho aceita ficar do lado de fora, feito sapato
antes de entrar.
Eu pensei no Natal chegando como chega todo ano:
com suas listas, suas compras, seus avisos de promoção, sua pressa organizada.
Pensei na ansiedade que a gente chama de “clima natalino” e que, muitas vezes,
é só medo de não dar conta: de não comprar o suficiente, de não agradar, de não
cumprir a tradição, de não entregar o espetáculo de família feliz. E pensei,
com um desconforto quieto, que a maior parte dos nossos embrulhos serve para
esconder a falta de presença.
Meu filho, ali do meu lado, não queria nada
embalado. Ele queria ir. Queria se misturar. Queria existir perto de outras
existências. E essa vontade dele parecia mais sensata do que todas as
estratégias adultas de felicidade.
Uma das crianças percebeu nossa pausa. Olhou pra
nós com aquela coragem sem cerimônia que só criança tem. Fez um gesto simples,
como quem oferece: “quer brincar também?” Não disse com palavras, mas disse com
o corpo. O convite era um presente sem fita, sem custo, sem intenção de
impressionar.
Meu filho respondeu com um sorriso que não pede
permissão ao rosto. Desceu do quadriciclo com cuidado, como se estacionasse um
cavalo. Deu dois passos e parou, esperando meu aval. Eu, que vinha do trabalho,
eu, que carregava tantos “nãos” prontos, senti uma coisa quase física: um “sim”
abrindo espaço dentro de mim.
Ele foi. Encostou na caixa. E, em segundos, já
estava dentro do mundo deles, sem contrato, sem currículo, sem apresentação. Eu
fiquei de fora, como sempre ficamos: adultos são espectadores daquilo que um
dia foram. Mas, naquele momento, eu não senti tristeza. Senti uma espécie de
gratidão: a vida ainda sabe oferecer cenas que nos educam.
Observei o jeito como eles negociavam o brincar.
Um queria ser motorista, outro queria ser passageiro, outro queria só empurrar.
E, em vez de ruptura, havia ajuste. Eles se irritavam, sim, mas se refaziam
rápido. Era como se a reconciliação fosse um movimento natural, não um evento
solene. Ali ninguém guardava mágoa como quem guarda documento. Ali o tempo não
era inimigo. Era matéria-prima.
E eu, que tantas vezes digo estar sem tempo,
percebi a frase escondida por trás disso: eu estou sem tempo porque dou meu
tempo ao que não me devolve vida. Dou ao ruído. Dou ao excesso. Dou à obrigação
de parecer resolvido. Dou ao medo de falhar. E, quando chega o fim do dia, o
pouco que sobra eu protejo como se fosse um bem frágil, sem perceber que o
tempo só vira bem quando vira presença.
Fiquei pensando em quantas caixas jogamos fora
sem saber que elas podem virar mundo. E quantos mundos jogamos fora porque
preferimos comprar caixas prontas, com manual de uso, garantia e aparência de
sucesso. A caixa de papelão daquelas crianças era quase um manifesto: o
essencial não precisa de luxo; precisa de imaginação, e imaginação, no adulto,
tem outro nome: atenção.
Meu filho saiu da caixa alguns minutos depois,
suado de riso, com as mãos sujas de poeira e um brilho que nenhum embrulho
entrega. Voltou ao quadriciclo como quem volta de uma viagem. Eu ajeitei a
roupa dele, limpei o rosto com o dedo, e ele me olhou como se dissesse: “viu?”.
Eu vi. Eu vi demais.
Seguimos nosso caminho. A tarde já se inclinava,
e as sombras começavam a alongar a rua. Eu ainda estava cansado, mas era um
cansaço diferente, como se uma parte do peso tivesse mudado de lugar. Não
porque a vida ficou fácil, mas porque algo dentro de mim lembrou o que importa.
E foi aí que eu entendi, com a clareza simples
que só vem depois de uma caixa de papelão: no Natal, e fora dele, o presente
que ninguém embrulha é o único que, quando a gente dá, não se perde; ao
contrário, aumenta.
Presença é o presente que faz o resto ter
sentido.
Confira Também
-
![]() 22/12/2025Então é Natal
22/12/2025Então é Natal